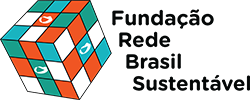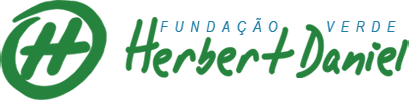O Brasil e a crise econômica da Covid-19
Publicado 30/05/2020 - Atualizado 30/05/2020

A paralisação das atividades como resposta ao Sars-CoV-2O provocou a maior recessão da história do capitalismo. Em 16/05/2020, a OMS informou que 215 países registravam casos desse novo coronavírus. O FMI, o Banco Mundial e a OCDE são unânimes quanto às consequências negativas dessa crise sanitária sobre a economia. Em abril, o relatório do FMI estimava que o impacto sobre o nível das atividades, emprego e renda provocaria uma retração de 3%, mesmo que a economia mundial se recuperasse a partir do segundo semestre. Mas em maio, sua economista-chefe, Gita Gopinath, alertou, em entrevista à imprensa, que a instituição deveria rever suas previsões, tal o tamanho da redução do consumo que estava sendo observado.
Vários analistas compararam a crise que se desenhava com a dos anos 1930 ou com a de 2007-2008. Não há como assim proceder. Em relação à Grande Recessão, a conformação do capitalismo era outra, bem distinta da consolidada sobre o período do neoliberalismo. Além disso, foram crises que se manifestaram na esfera da circulação, revelando profundas dificuldades do capitalismo na esfera da produção, especialmente sua incapacidade de recompor taxas de lucro adequadas e, por isso, sua convivência com elevadas taxas de ociosidade.
Em 2019, a economia mundial não havia, ainda, se recuperado de sua última crise. Não por acaso, em 10/2019, a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, alertou para o fato de o crescimento mais lento esperado no ano se apresentar de maneira sincronizada, afetando 90% dos países. No período 2009 a 2018, o crescimento do PIB mundial foi bastante modesto, de 2,56%. Em 2019, registrou 2,9%. E isso considerando o desempenho da China e a de Índia, com crescimento médio de 7,95% e 7,12%, de 2009-2018, e de 6,1% e 4,9% em 2019. Sem esses países, os resultados ainda seriam menos expressivos.
Os constrangimentos vividos pelo capitalismo antes da pandemia não explicam a crise de 2020. Eles constituem uma base, bastante problemática, sobre a qual atuou a paralisação das atividades. A crise foi provocada por algo que podemos chamar de um choque de oferta, e não fruto de um desfuncionamento da economia, agudizado em uma determinada atividade e/ou esfera, para, a seguir, se propagar no conjunto das atividades de um país e no mundo. Um evento (a chegada do novo coronavírus) que exigiu, de repente, sem aviso prévio, a parada parcial ou total das atividades (com exceção das consideradas de primeira necessidade).
A economia mundial dos anos 1930 não é comparável à de 2020. Naquele momento, o capitalismo estava internacionalizado e havia a proeminência do capital portador de juros. Atualmente, o quadro em que se desenvolve a atual crise é aquele da mundialização do capital e o capital portador de juros está novamente no centro das relações econômicas e sociais, mas em nível nunca visto. Além disso, faz parte da mundialização do capital as cadeias globais de valor e a extrema especialização da produção ou de parte de suas etapas em determinados países, criando um sem número de relações de interdependência entre produtores, atacadistas e sistema financeiro no plano global. Essa configuração, até então vista como uma vantagem, transformou-se em obstáculo no momento da chegada da pandemia. A extrema concentração da produção em alguns países, como é o caso dos respiradores na China e de reagentes de testes na Índia, criou um caos no suprimento de equipamentos e de componentes necessários ao combate à Covid-19. A seriedade da interrupção de elos das cadeias de valor ocorrida durante a crise pode levar a dificuldades para que a economia se recupere no momento seguinte.
No Brasil, o processo de desindustrialização provocado por essa especialização afetou a área da saúde que, de autossuficiente na produção de vacinas, passou a depender de sua importação. Quanto aos respiradores, tão essenciais para o tratamento intensivo dos casos graves da Covid-19, o fato de quase todos os países terem demandando da China, levou a que contratos realizados pelo governo federal brasileiro fossem rompidos, que trajetos criativos fossem realizados pelo estado do Maranhão para que a carga não fosse desviada, e que parte dos respiradores comprados pelo estado do Pará chegassem apresentando problemas técnicos . A dificuldade em prover equipamentos necessários ao combate à Covid-19 revelou, também, a impotência da OMS tal como está configurada, colocando na ordem do dia a construção de um organismo que seja capaz de coordenar ações no plano internacional. A ação de indústrias em consertar aparelhos danificados e a produzir novos, numa tentativa de reconverter parte de suas fábricas, foi digna de nota, mas incapaz de suprir a necessidade na velocidade exigida, bem como substituir um processo de coordenação centralizada pelo governo federal, que optou pela omissão.
No Brasil, a partir do início de abril 2020, as estimativas para o PIB começaram a ser sucessivamente revistas para pior. Inicialmente, as previsões apontavam para um fraco crescimento ou uma retração discreta. Já em 18/05, as instituições financeiras consultadas pelo Banco Central, que integram o Boletim Focus, consideraram que, em média, a economia brasileira registrar uma queda de 5,12%, chegando próximo ao previsto pelo FMI (5,3%), em seu cenário mais otimista.
Quando a pandemia chegou ao país, a economia estava semiparalisada (há três anos crescendo pouco mais que 1%), registrando elevado nível de desemprego, ampliação do mercado informal do trabalho, crescimento da pobreza absoluta e aprofundamento da desigualdade de renda. Para se entender a importância desse último aspecto, é preciso lembrar que, em 2017, o Brasil estava situado no topo do ranking da desigualdade (7º lugar), perdendo apenas para países africanos. Os bolsões de pobreza e de concentração de população submetida a péssimas condições de vida, que sempre se fez presente no território nacional, especialmente nas grandes metrópoles, haviam aumentado significativamente durante os últimos anos. Além disso, desde 2016, a condução da política econômica caracterizou-se por ser ultraliberal, cujos exemplos maiores foram o congelamento do nível de gastos do governo federal por vinte anos (Emenda Constitucional 95) e a realização das reformas trabalhista e previdenciária.
As políticas sociais foram afetadas por essa orientação, entre elas a área da saúde pública, do Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar disso, o SUS, mesmo combalido, foi chamado a ser o principal protagonista da luta contra a Covid-19, a ele se dirigindo recursos financeiros para atender demandas de toda ordem, mas ainda insuficientes para dar conta de sua perda histórica.
Além disso, houve (há) uma clara falta de coordenação entre o Ministério da Saúde (MS), os Estados e os Municípios. Embora o SUS constitua um sistema organizado nos três níveis de governo, sendo claramente definidas suas competências, era de se esperar que o MS assumisse protagonismo durante a pandemia e que, em conjunto com as demais esferas de governo, coordenasse as ações e o planejamento necessário. Esse protagonismo e coordenação, no entanto, não aconteceu, dado que parte das ações necessárias implicava (e implica) o isolamento social e, caso necessário, o lockdown. Isso recebia (recebe), de parte da Presidência da República, não só rejeição como campanha ativa contrária. Para Jair Bolsonaro, a economia não pode parar, apesar de que as mortes só aumentam. O resultado disso é a coexistência de duas orientações: a de governadores e prefeitos, que por diversos motivos se posicionaram firmemente no sentido de promover o isolamento social com vista a diminuir o ritmo de contaminação; e preparar o sistema de saúde para o momento seguinte.
Resultado disso é que, em 25/05, o número de mortos pela Covid-19 atingiu 23.473, e pelo menos 4 Estados estavam próximos ou já haviam registrado colapso de seu sistema de saúde, em que pese as medidas adotadas em alguns deles – ampliação de leitos de enfermaria e de unidades de terapia intensiva (UTIs), incorporação de leitos do setor privado ou a instituição de fila única.
As curvas de novos casos de contaminação e mortes confirmadas pela Covid-19 estão em franca ascensão. E o quadro de pobreza e de desigualdade, traço estrutural da sociedade brasileira, tem se manifestado nessa pandemia no maior número de mortos entre a população mais desfavorecida.
Entre as tarefas a serem feitas, depois que o pesadelo acabar, certamente encontram lugar prioritário o enfrentamento da desigualdade e o fortalecimento do SUS.
Rosa Maria Marques é professora titular de economia da PUC-SP e ex-presidente da SEP.
Marcelo Depieri é professor titular de economia da Universidade Paulista (Unip).