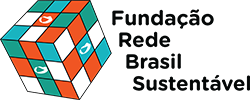Democracia em tempos de “Globalização”
Publicado 18/06/2019 - Atualizado 09/09/2019
O maior desafio da democracia contemporânea continua sendo o peso crescente do setor financeiro privado dentro do Estado. Desde os anos 1990, a década neoliberal, setores críticos de uma agenda financista no interior das sociedades nacionais se defrontam com o dilema de como reduzir a influência dos donos e executivos de bancos, gestores de fundos de investimentos livres, especuladores de moeda, agentes das bolsas de valores nos governos e, sobretudo, nos orçamentos públicos, por meio do qual abocanham um quinhão cada vez maior das riquezas produzidas no mundo e em cada sociedade nacional.
Trata-se de um exército numericamente pequeno, mas com força suficiente para enfrentar o poder financeiro até mesmo de bancos centrais como o inglês, como aconteceu em 16 setembro de 1992, dia em que megaespeculador George Soros, sozinho, apostou US$ 10 bilhões na desvalorização da libra frente ao marco, fazendo empréstimos em libras e comprando moeda alemã. O Banco Central britânico tentou segurar enfrentar o poder financeiro do fundo de Soros (o Quantum) e despejou no mercado três bilhões de libras para impedira desvalorização da moeda. Ao final desse dia, e com as autoridades financeiras inglesas devidamente ajoelhadas, George Soros recolheu mais de um bilhão de dólares em lucros quando foi anunciada a desvalorização da libra(i). 16 setembro de 1992 ficou conhecido entre os ingleses como a “quarta-feira negra”, mas para o mercado financeiro foi o dia em que Soros foi alçado à condição de quase divindade, como “O homem que quebrou o Banco de Inglaterra”. O aviso estava dado e as autoridades financeiras dos Estados nacionais souberam do tamanho do poder dos fundos de investimentos e da ausência delimites para suas apostas, mesmo quando o que está em jogo pode afetar a vida de milhões de pessoas.
Em 2002, a Folha de S.Paulo quis saber a opinião de Soros sobre as eleições presidenciais brasileiras que aconteceriam naquele ano. Soros deu uma resposta direta. Disse que ou José Serra vencia as eleições ou seria imposto o caos ao país, nos moldes do que havia acontecido na Argentina durante o governo de Fernando de la Rúa, no ano anterior. De la Rúa foi obrigado a renunciar força do pelo caos econômico e social criado diante das suspeitas do setor financeiro sobre a capacidade de pagamento do Estado argentino, o que gerou uma grave crise cambial provocada por uma massiva fuga de dólares do país vizinho. Ao ser questionado sobre o caráter antidemocrático daquela afirmação, Soros explicitou qual seu modelo de democracia: “Na Roma antiga, só votavam os romanos. No capitalismo global moderno, só votam os americanos, os brasileiros não votam(ii). Éclaro que, quando Soros falou do voto dos “americanos”, não se referia aos cidadãos comuns dos Estados Unidos, cuja maioria sequer fazia ideia de que haveria eleição no Brasil, mas à oligarquia financeira do país, sobretudo a nova-iorquina. Se alguém tem dúvida desse abismo que separa essasduas categorias de “cidadãos” americanos, basta ler o que o historiador inglês Neil Ferguson escreveu sobre a desigualdade de renda nos Estados Unidos, em livro publicado depois da crise do subprime. Em 2007, a renda média do cidadão estadunidense ficou um pouco abaixo dos US$ 34 mil, tendo subido 5% de um ano para o outro. Como a inflação em 2007 foi de 4,1%, o crescimento real da renda, portanto, foi de apenas 0,9%. E o resultado daquele ano não era um ponto fora da curva. A renda média acumulada entre 1990 e 2007 nos EUA havia aumentado apenas 7%.
Com esse número na mão, Ferguson propôs em seguida que comparássemos a situação media em termos de renda dos americanos com a de um dos diretores executivos da Goldman Sachs, Lloyd Blankfein. Em 2007, Blankfein recebeu a bagatela de US$ 68,5 milhões em salário, bônus e prêmios em ações,o que representou um aumento de 25% sobre os valores recebidos no ano anterior,e cerca de duas mil vezes a mais do que o nosso cidadão médio americano recebeu no mesmo ano. “Naquele mesmo ano, a receita líquida de US$ 46 bilhões da Goldman Sachs excedeu o produto interno bruto (PIB) de mais de uma centena de países(…). Pela primeira vez, o total de bens do banco ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão”. Fergunson lembra ainda que os Ativos totais da Goldman Sachs ultrapassaram naquele ano,pela primeira vez, a cifra de US $ 1 trilhão! Lloyd Blankfein, entretanto, não era um único nem o maior ganhador do mundo financeiro. George Soros embolsou naquele ano US$ 2,9 bilhões e Ken Griffin, do Citadel, outros US$ 2 bilhões. “Enquanto isso, quase um bilhão de pessoa sem todo o mundo lutam para sobreviver com apenas US$ 1 por dia.” (iii)
Independente da natureza e dos mecanismos pelos quais são produzidas − se com mais ou menos intervenção do Estado, por exemplo, − claro que poucos foram os que se perguntaram como essas montanhas de riquezas individuais foram construídas com espetacular rapidez. Se tivessem perguntados, elas teriam certamente observado que essas riquezas não foram frutos de alguns dos tradicionais mecanismos criados pelo capitalismo após a Revolução Industrial, como o aumento da produtividade do trabalho obtida pelo emprego do capital produtivo. Mais ainda: se elas não gerariam o aumento da desigualdade e desembocariam em depressões econômicas, como tem sido recorrente no capitalismo.
Aliás, Ferguson publicou seu livro no mesmo ano em que explodiu nos Estados Unidos a maior crise do capitalismo desde 1929, mas a timidez com que ele trata do problema da regulação, por exemplo, é reveladora do quão essa ideia continua desprestigiada, sobretudo entre os “economistas”, ou “teóricos das finanças”, como prefere qualificá- los Paul Krugman. Estes se acostumaram a cultivar crenças, sustentadas em modelos matemáticos, de que”os mercados eram inerentemente estáveis”. Essa crença pode ser sintetizada numa única, digamos, ideia-força: a desregulamentação financeira,que reinava à época não só no mundo acadêmico, mas na imprensa e nas instituições financeiras estatais de quase todo o mundo, tendo como farol o Federal Reserve dos Estados Unidos.
Esse consenso, como sempre, era apenas aparente. Nesse mesmo artigo, escrito em 2010para a revista do New York Times, Paul Krugman lembra que, durante uma conferência realizada em 2005 para homenagear a administração de Alan Greenspan no Fed, depois de ter passado 19anos na instituição e, portanto, por administrações republicanas e democratas sucessivas, “um corajoso participante, Raghuram Rajan
(professor da Universidade de Chicago, surpreendentemente), apresentou um texto no qual advertia que o sistema financeiro estava assumindo níveis de risco potencialmente perigosos.” (iv)
Rajan não era e não é um economista qualquer. Entre 2013 e 2016, foi presidente do Banco Central indiano. Quando publicou o paper mencionado por Krugman, ele era o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), e nessa condição foi convidado a escrever e apresentar o polêmico artigo na Jackson Hole Conferencev, cujo título (“O desenvolvimento financeiro tornou o mundo mais arriscado?” (vi) já antecipava um inconveniente debate num ambiente que deveria ser marcado pelo consenso. Claro que ninguém deu ouvidos a Rajan nem aos seus alertas de que alguma coisa estava errada no mundo do dinheiro em 2005, mas seu prognóstico só se mostrou impressionantemente certeiro quando esse mundo veio abaixo − pelo menos temporariamente − menos de três anos depois. Foi só aí que a capacidade de antecipação de Rajam foi reconhecida e suas previsões ganharam a ribalta da mídia.
No paper, Rajan começa tratando do quanto o desenvolvimento tecnológico impactou os serviços bancários, sobretudo a internet, e como, ao ampliar mercados antes controlados por bancos que só operavam faca a face, uma mudança institucional de largo alcance foi se realizando, desmontando o sistema regulatório que, nos 70 anos após o último grande colapso financeiro, o de 1929, protegeu a economia americana e seus cidadãos de catástrofes. Numa ambiente desregulamentado, a competição pelos bons pagadores cuidou de pavimentar o caminho para a crise: operadores financeiros deram asas à imaginação e criaram produtos financeiros, que ofereciam lucros quanto mais o “investidor” estivesse disposto acorrer riscos.
Rajan descreveria com mais detalhes, em livro publicado em 2010, que uma das razões principais da crise foram as “maravilhas da securitização”, que permitiram aos bancos juntarem, num mesmo pacote, tanto empréstimos imobiliários quanto de cartões de crédito e os colocasse à venda no mercado financeiro. Cada um desses pacotes era dividido em diferentes valores mobiliários, que diferiam em “liquidez, vencimento, contingência e risco” e oferecidos a uma clientela específica (vii). Aos poucos,nessa clientela foi expandida para “pessoas que não tinham renda, nem empregos e nem ativos”(viii).
A crise veio, acompanhada de uma depressão econômica que atingiu violentamente os”cidadãos comuns” americanos, produzindo custos gigantescos, não só para a economia americana. Estudos da ONG BetterMarkets (ix), criada depois da crise de 2008, mostram que os custos do crash econômico superaram, em 2015, valores equivalentes a US $ 20 trilhões em Produto Interno Bruto (PIB). Apenas US$ 700 bilhões foram os recursos gastos pelo Estado americano,devidamente aprovados pelo Congresso, destinados a comprar ativos podres em propriedade dos bancos, e outros US $ 200 bilhões “posteriormente injetado nos maiores bancos”.(x) A lista do “gasto público” para socorrer bancos, empresas e indústrias engolfadas pela crise é longa. US $ 29 bilhões para facilitar a venda da Bear para o JP Morgan Chase;US $ 187,5 bilhões para salvar as mega-financiadoras de hipotecas dos Estados Unidos Fannie Mae (xi) e Freddie Mac, duas gigantes financeiras do mercado imobiliário americano; além disso, a General Motors e a Chrysler receberam ambas aportes US$ 64 bilhões para serem salvas (US $ 49,5 bilhões para a GM e US $ 14,9 bilhões para Chrysler). E, suprema ironia para quem propagou durante anos para o mundo as ideias de Estado mínimo e privatizações: “Como resultado dessas intervenções, o governo adquiriu importantes participações Fannie Mae, Freddy Mac, AIG, General Motors, Chrysler e Citigroup, bem como ações de ações preferenciais menores nos outros bancos que tomaram TARP Money” .[TARP é a sigla para “Programa de Socorro de Ativos Problemáticos”]
Ou seja, ausência de Estado para promover o lucro privado dos bancos, e socialização das perdas quando a crise provocada por esses mesmo bancos sobrevém, conta devidamente repassada para o nosso “cidadão médio”.”Quantos executivos sêniores de Wall Street foram condenados por crimes na sequência do pior colapso em quase 100 anos?”, pergunta o relatório da BetterMarkets. Ela mesma responde: “Zero”. E o pior: mesmo com os alertas anteriores à crise e o vendaval econômico que a sucedeu, que penalizou,sobretudo, os mais pobres, fazendo-os perder seus empregos e suas casas,”estão surgindo evidências de que os bancos estão voltando aos negócios como de costume, assumindo novos riscos com consequências previsíveis”.
Não pense, portanto, que a maneira como Soros se referiu à democracia contemporânea no já longínquo ano de 2002 era apenas uma metáfora para relacionar tempos históricos tão distintos e distantes. Mais ainda: que a ideia ali apenas esboçada tenha sido superada. Em certo sentido, Soros reverberava as posições de alguns teóricos da “globalização”(xii), como as dojaponês Keniche Ohmae. Na primeira metade da década de 1990, a “globalização” havia virado moda e, através da mídia, propagou a ideologia segunda a qual o mundo era cada vez mais “global”, sem fronteiras, integrado econômica,política e culturalmente. Essa ideia, claro, acabou por se transformar numa panaceia explicativa que oferecia respostas para tudo, sobretudo para os impactos sociais dela decorrente, como o desemprego causado pela abertura econômica: “isso é a globalização”, diziam. E a esse fatalismo inescapável cabia apenas adaptar-se(xiii).
A “globalização” virou também modismo acadêmico no Brasil, sobretudo na primeira metade da década de 1990. E, como acontece com todo modismo acadêmico,o que predominou foi uma postura intelectual pouco crítica diante de um fenômeno cujas bases eram mais ideológicas do que materiais. Foram poucos osque deram importância aos problemas nacionais − aliás, expressões como nação,soberania, interesse nacional, quase se tornaram palavrões démodés. Não por acaso, livros, seminários internacionais, conferências e congressos acadêmicos foram organizados no Brasil para estudar a novidade desse fenômeno, sobretudo os impactos “metodológicos” no âmbito das várias ciências.
Mas, a questão era outra. Voltando a Ohmae, no início dos anos 1990, ele postulou a ideia de que os Estados-nações tinham se tornado “pouco mais que atores coadjuvantes” do mundo global porque haviam perdido “seus papeis como unidades significativas de participação na economia global do atual mundo sem fronteiras”. O lugar ocupado pelos Estados-nações foi preenchido pelas”forças do mercado”, os verdadeiros agentes do desenvolvimento econômico, considerado por Ohame quase como um ente de vontade absoluta. Nas três décadas que sucederam a Segunda Guerra Mundial, período em que a economia foi dominada, segundo Ohmae, por uma “mortal lógica política eleitoral” keynesiana − portanto, dominada pelo eleitorado − que resultou em mecanismos, segundo ele, ineficientes de distribuição de riqueza (xiv). (um parêntese: entre tantos outros, o historiador inglês Eric Hobsbawm discordaria desse diagnóstico, já que ele se referiu a essas décadas como os anos dourados do capitalismo, anos marcados pelo crescimento econômico e estabilidade política)
A conclusão de Ohmae evidencia o caráter elitista de quem pensa a democracia sem povo e orientada unicamente pelo desiderato do “mercado”. E o Estado-nação é o inimigo a ser combatido porque acabou por se tornar, através das eleições, o mediador dos conflitos,sobretudo distributivos, no interior das sociedades nacionais. Portanto, não épreciso muito esforço para perceber que Estado-nação e “globalização”continuam sendo oposições inconciliáveis. Não por acaso é o economista John Maynard Keynes o objeto da crítica intransigente de Ohmae, porque o economista inglês, cujas ideias foram hegemônicas entre os economistas durante os 30 anos gloriosos, defendia controles regulatórios, leis que, ainda segundo Ohmae, “definiam relaçõesinevitáveis entre atividades econômicas dentro de um Estado- nação”xv. Estas levavam em conta sempre as relações entre o emprego (do trabalho e do capital, acrescente-se), demanda e oferta, fatores regulados por taxas de jurosmais baixas e maiores gastos estatais.
Para Ohmae, a economia global havia destruído essa perspectiva e não adiantava resistir:
“Além do mais, à medida que o funcionamento de mercados de capitais genuinamente globais compromete sua capacidade de controlar taxas de câmbio ou de proteger suas moedas, os Estados-nações têm se tornado inevitavelmente vulneráveis à disciplina imposta por opções econômicas feitas em outros lugares por pessoas e instituições sobre as quais não têm nenhum controle possível. Consideremos, por exemplo, o recente surto de especulação, relacionado ao tratado de Maastricht, contra o franco, a libra e a coroa. Consideremos, também, a carga insustentável, mas auto-imposta, dos vários programas sociais da Europa. Consideremos, finalmente, a total falta de criação de valor econômico, salvo para aqueles em todo o mundo que se beneficiam dos excessos orçamentários, de decisões como o compromisso da Dieta japonesa −calcado nas políticas do New Deal de Franklin Roosevelt − de construir rodoviase pontes desnecessárias nas ilhas remotas de Hokkaido e Okinawa.” (xvi)O utilitarismo de Ohmae jamais alcançaria as preocupações de Keynes sobre o papelda economia, do desenvolvimento e do investimento público para qualquer nação.Por isso, em tempos de “globalização”, a política tem se tornado cada vez mais“fria”. Desde antes da Primeira Guerra, as sociedades nacionais forammobilizadas para desafios que as opunham a outras sociedades nacionais. Essesembates se prolongaram pelos anos 1920, 1930 e Segunda Guerra, durantes osquais o keynesianismo ganhou forma e traduziu-se como uma política econômica alternativa ao liberalismo, ao nazi-fascismo e ao socialismo, que privilegiava a estabilidade econômica”nacional”, combatia o desemprego, distribuía melhor a renda para estimular o consumo. Nisso tudo, o controle regulatório do Estado era estratégico. O avanço soviético durante e depois da guerra, o medo dele decorrente, e o aumento da influência dos sindicatos, cuidaram de tornar as ideias de John Maynard Keynes consensuais.
Para Paul Hirst e Gramahe Thompson (xvii) esse ambiente que marcou as décadas pós-Segunda Guerra desapareceu, sobretudo em razão das mudanças tecnológicas que afetaram a produção, a produtividade do trabalho e o poder político dos trabalhadores e dos sindicatos. Por isso, setores importantes da esquerda e da direita migraram para posições alinhadas à consideração de que, se não existem meios para enfrentar esse poder econômico “global” no plano nacional, resta reduzir as diferenças políticas a questões que não são propriamente “nacionais”.
“A política flui em direção à política da moralidade – em questões como o aborto, direitos dos homossexuais, direitos dos animais e o meio ambiente. A política ativista ou ‘quente’ pode ser em sua antiga acepção, sem medo de que se vá desviar aatenção das questões ‘nacionais’ vitais – pois essas são, agora, triviais.” (xviii)
O governo de Jair Bolsonaro é uma junção perfeita dessa tese: um ajuntamento de militares que abandonaram a tradição do nacionalismo econômico para se juntar em a grupos evangélicos que abraçam com ardor as bandeiras da moralidade consrvadora. Além dessas questões, nos anos 1980 e 1990, a questão ambiental e o combate à pobreza também entraram na agenda política dos partidos, levadas,principalmente, pelas iniciativas da ONU (xix) e do Banco Mundial (xx). É claro que essas questões precisam ser matizadas, mas é certo que a defesa dessas agendas ajudaram a delimitar diferenças importantes entres partidos,principalmente numa sociedade conservadora como a brasileira, mas é certo que a questão nacional manteve sua condição de “trivialidade”.
Isso até o ano de 2008, ano que marcado tanto pela crise nos Estados Unidos como pelo surgimento do inicialmente chamado BRIC, o grupo de países ditos”emergentes” e que reunia Brasil, Rússia, Índia e China, e ao qual se juntou a África do Sul, em 2011. Aliado a isso, a criação, também em 2008, do Fundo Soberano Brasileiro pelo governo Lula. Em 2014, essa aliança geopolítica acabou se materializando na criação do Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, cuja principal função é criar uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial, com linhas de crédito para investimentos em infraestrutura, e tornar os países membros menos expostos a ataques especulativos. A crise global como sempre ofereceu oportunidades demais autonomia aos governos de países como o Brasil. Governado pela esquerda, o Brasil conseguiu desenvolver políticas mais autônomas em relação aos Estados Unidos, e talvez nos próximos anos encontremos nisso uma explicação para os eventos que começaram em 2013, e que tiveram como desfecho o impeachment de Dilma Rousseff, três anos depois, um ano emeio depois de sua reeleição. Se depois de 2008, esses governos inseriram em sua agenda desenvolvimentista, no plano interno, e de inserção mais autônoma no plano externo, eles claramente descuidaram do problema do endividamento interno − ou não tiveram forças para enfrenta-lo, − e isso fica demonstrado porque o ex-presidente Lula e a ex-presidenta Dilma Rousseff tiveram pouca ou nenhuma ingerência nas políticas monetárias, cambial e fiscal durantes os seus respectivos governos. A soberania popular da Presidência da República tinha um claro limite e alcance. E esse foi o principal deles. Segundo dados do Banco Central, por exemplo, a dívida bruta das três esferas de governo, não incluindo as estatais, havia chegado ao estratosférico volume de R$ 3,9 trilhões em 2016! Um ano depois essa dívida já era de R$ 4,1 trilhões, e, em janeiro de 2018, de R$ 4,6 trilhões xxi! Segundo projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), se essa tendência de crescimento for mantida,toda a dívida pública brasileira representará, em 2022, 96,3% do PIB!(1). Ou seja, em poucos anos o Brasil terá uma dívida equivalente a toda riqueza produzida durante um ano com saldos pagar, sobretudo com bancos.
No entanto, diante de um problema que é de longe o mais grave problema da nossa economia, com efeitos cada vez mais danosos sobre o Estado e os serviços públicos por ele oferecidos, essa questão não é debatida com a devida importância que merece, nem pela grande mídia nem pelo Congresso. E por qual motivo? A razão é essa: as instituições da democracia contemporânea foram capturadas pelas corporações financeiras, e a grande mídia tornou-se mera correia de transmissão desses interesses. Com raras exceções, líderes e partidos políticos, mesmo aqueles que reconhecem a gravidade do problema, não ousam enfrentá-lo como um desafio,mantendo a velha atitude segundo a qual não resta outra atitude a não ser adaptar-se a essa ordem de coisas, à pax do mercado. O que devemos fazer com o que nos resta de autonomia política? Administrar os crescentes déficits orçamentários para que sobrem recursos a serem investidos em áreas realmente fundamentais para o desenvolvimento nacional? É nisso se resume hoje as grandes diferenças entre esquerda e direita?
A condição primária, portanto, para o exercício do poder democrático é assumir o papel dirigente e o controle sobre mecanismos que possam viabilizar uma estratégia de desenvolvimento, orientado para uma distribuição estrutural de renda, cuja primeira condição consiste em retomar, por exemplo, o controle do Banco Central, hoje nas mãos do setor financeiro, e colocá-lo a serviço de uma nova estratégia de desenvolvimento.
Qualquer agenda que leve em conta qualquer projeto de desenvolvimento nacional com distribuição de renda depende dessa medida
Flavio Lúcio R. Vieira é Professor da Universidade Federal da Paraíba
Notas
International Monetary Fund. Fiscal Monitor (April 2018). World Economic and Financial Surveys: Capitalizing on Good Times https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/fiscalmonitor/2018/April/pdf/fm1801.ashx?la=em p. 7
iFERGUSON, Niall. A ascensão do dinheiro: a história financeira do mundo. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2009. p.226-227
iiROSSI, Clóvis. “Soros diz que EUA irão impor Serra e que Lula seria o caos”. Folha de S. Paulo, SP, 8 jun.2002, Folha Brasil, Caderno 1, p. 4.
iiiFERGUSON, Niall. A ascensão do dinheiro: a história financeira do mundo. São Paulo:Editora Planeta do Brasil, 2009.p.8
ivKRUGMAN,Paul. How Did Economists Get It So Wrong? Magazine New York Times. New York, NY, SEPT. 2, 2009. Disponível em: https://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html Acesso: 29/05/2019.
v“O Simpósio de Política Econômica do Banco da Reserva Federal de Kansas City, em Jackson Hole, Wyo, é uma das mais antigas conferências de bancos centrais do mundo. O evento reúne economistas,participantes do mercado financeiro, acadêmicos, representantes do governo dos EUA e da mídia para discutir questões políticas de longo prazo de interesse mútuo.” Disponível em: https://www.kansascityfed.org/publications/research/escp/jackson-hole. Acesso: 05/06/2019
viRAJAN,Raghuram G. Has Financial DevelopmentMade the World Riskier? Cambridge, MA: (Nber working paper series) Novembro de 2005. p. 6 Disponível em: http://www.nber.org/papers/w11728 Acesso: 30/07/2019.
viiIbid. p.
viii(12)
ixEm seu site, a Better Markets se autodescreve como uma “organização sem fins lucrativos, apartidária e independente, fundada na esteira da crise financeira de 2008 para promover o interesse público nos mercados financeiros, apoiar a reforma financeira de Wall Street e fazer novamente o sistema financeiro funcionar para todos os americanos”. Disponível em: https://bettermarkets.com/about-us Acesso: 06/06/2019
xBETTER MARKETS. The cost of the crisis: $20 trillion and counting. Washington DC: Better Markets, July/2015. p. 5. Disponível em: https://bettermarkets.com/sites/default/files/Better%20Markets%20-
xiA Fannie Mae foi uma das tantas instituição financeira criadas pelo New Deal para salvar o capitalismo americano depois da crise de 1929. “A Fannie Mae foi criada para fornecer aos bancos locais dinheiro federal para financiar hipotecas residenciais, numa tentativa de elevar os níveis de propriedade de moradias e a disponibilidade de moradias a preços acessíveis.” A empresa foi privatizada em 1968 e, para impedir o monopólio do mercado hipotecário, foi criada em 1970 nos mesmo moldes, ou seja, empresa de capital aberto que recebe benefícios do Estado, a FreddieMac. Essas duas empresas foram decisivas para promover a crise do subprime .ALFORD, Rob. What Are the Origins of Freddie Mac and Fannie Mae? Disponível em: https://historynewsnetwork.org/article/1849. Acesso: 06/06/2019
xiiEm outro lugar, eu defini assim “globalização”: “Por globalização, entende-se normalmente uma estrutura econômica determinada por processos que transcendem, ou estão fora do controle, dos Estados-nações e que as fronteiras em que estes se apoiavam para exercer sua autoridade e estabelecer os mecanismos ‘nacionais’ de regulação econômica e social estão desaparecendo. Propõem-se em seu lugar formas transnacionais de poder político e econômico, orientadas pelo interesse das grandes corporações econômicas (HIRST e THOMPSON, 1998), os verdadeiros agentes desse processo.Restaria aos Estados-nações apenas a adaptação a essa onda, sobre a qual eles não têm capacidade alguma de controle. Tal proposição ideológica vê esse processo como inevitável, não havendo, portanto, como resistir às determinações dos referidos sujeitos da ‘globalização’.” VIEIRA, Flávio L.Sudene e desenvolvimento sustentável: planejamento regional na década neoliberal. João Pessoa: Ed.UFPB, 2004, pp.40-41
xiiiCHESNAIS, François. (1996) A Mundialização do Capital. São Paulo: Xamã.
xivOHMAE, Kenish. O Fim do Estado-nação. a ascensão das economias regionais. São Paulo: Campus, 1996.p. 6.
xvIbid.p. 35.
xviIbid.p. 6
xviiHIRST, Paul e THOMPSON, Grahame. Globalização em questão: a economia internacional e as possibilidades de governabilidade. Petrópolis, RJ: Vozes (Coleção Zero à esquerda)
xviiiIbid. pp. 273-274.
xixONU/CMMAD. Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1991.
xxBANCO MUNDIAL. Relatório sobre Desenvolvimento Mundial 1990. Washington, D.C.: Oxford University Press, 1990.
xxiBANCO CENTRAL DO BRASIL. Série histórica da Dívida líquida e bruta do governo geral (metodologia vigente a partir de 2008). disponível em: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Fhtms%2Finfecon%2FseriehistDLSPBruta2008.asp